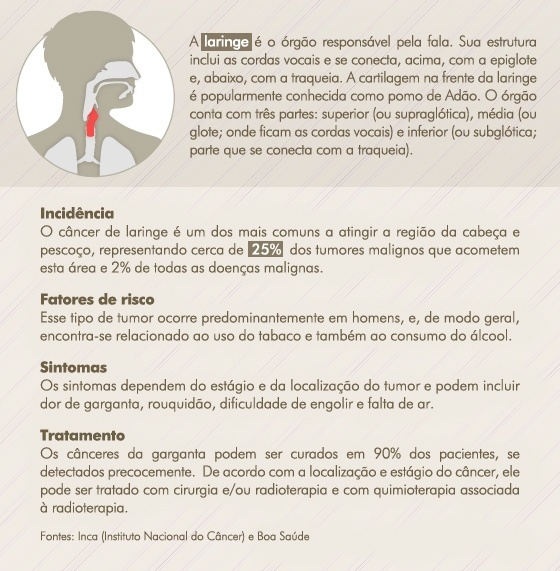Otimista, Miguel Nicolelis falou ao site de CartaCapital sobre as grandes mudanças que a academia brasileira terá que fazer para tornar o País uma referência na ciência mundial. Foto: Olga Vlahou
CartaCapital: Como era fazer ciência no Brasil na época em que o senhor estava na faculdade, nos anos 1980?
Miguel Nicolelis: Era muito difícil porque, no Brasil daquela época, tudo tinha que passar pelos chefes de departamento, que eram professores titulares (na Faculdade de Medicina da USP, onde se graduou). Não havia como fazer nada sem estar sob a tutela ou sob a proteção de algum dos catedráticos. E isso era muito difícil, porque a maioria deles era de médicos, alguns muitos bons médicos, mas sem formação cientifica. E o espírito era muito feudalista. Eu bati de frente com um dos professores, que foi o motivo de eu sair do Brasil. Tornei-me pessoa non grata do departamento. Tive a sorte de, no primeiro ano de pós-doc lá fora, ter um trabalho publicado na revista Science. E isso causou uma reação em cadeia oposta do que eu esperava…
CC: Ciumeira?
MN: A mensagem era “nem volte, porque você não vai ter espaço nenhum aqui”. E então decidi ficar nos Estados Unidos. Se eu voltasse, ficaria no “closet” (gíria da academia para designar profissionais sem função).
CC: O que exatamente houve para sua saída da USP?
MN: Eu não vou entrar em detalhes porque não vale a pena, são disputas acadêmicas. Nós estávamos criando uma nova disciplina dentro da faculdade e claramente fomos considerados, eu e mais alguns, uma ameaça. Ameaça de progressão na carreira, estávamos fazendo algo muito novo, uso de computadores em medicina. Estou falando de vinte tantos anos atrás. Mas eu senti o peso que era você realmente conseguir fazer alguma coisa. Quando comecei a publicar alguma coisa de peso, na universidade que eu estava (a Hahnemann, da Filadélfia), meu orientador de pós-doutorado me disse: “Não te querem lá (no Brasil) mas nós te queremos”. Foi lá que desenvolvi o primeiro passo nessas interfaces cérebro-máquina. E seis meses depois eu recebi a oferta da Universidade de Duke (Carolina do Norte, EUA), onde eu estou até hoje.
CC: E o senhor entende que essas dificuldades eram específicas da USP ou do Brasil como um todo?
MN: Aquilo era muito específico do Brasil naquela época. Era muito difícil você ascender na carreira. Melhorou muito. Mas ainda não é o que a gente espera, eu acho.
CC: O que melhorou nesses 30 anos?
MN: Arejou um pouco. Acabou-se com essa figura do catedrático. As pessoas têm carreiras individuais, como nos EUA. Você não compete mais com o cara do seu lado, você trabalha com ele. Você compete, sim, com o campo de atuação. Tem os caras no mundo inteiro fazendo o que você faz, todos tentando levar o campo pra frente. Mas não é com o fulano do seu lado, do seu departamento. O meu departamento tem seis ou sete pessoas titulares, e ninguém fica contando cota de professor titular. É uma progressão natural, uma carreira feita para cada um.
Ainda temos estruturas hierárquicas de poder na academia brasileira que são reais, coisas que não existem mais em outros lugares. Exemplo: pesquisadores ranqueados pelo CNPq, o que não existe em nenhum lugar do mundo. Não conheço rankings de pesquisadores fora daqui, não existem privilégios. Eu compito com meninos de 20 ou 30 anos que estão começando a carreira para todas as linhas de financiamento, para todas as benesses que o governo americano tem para a ciência, é igual. Outro exemplo: na área de biomedicina, o mestrado acabou. Nas grandes universidades americanas e européias é raríssimo. Na realidade o mestrado acaba sendo um caminho de escape para quem fez o doutorado e não deu conta da brincadeira ou não quis prosseguir, ou um comitê de tese achou que não tinha mesmo condição. Ai vira um mestrado. Mas não existe mais um investimento estratégico em mestrado.
CC: Como é feita a ponte entre a graduação e o doutorado no mundo científico lá fora?
MN: A pessoa sai da graduação e vai direto para a pós-graduação no doutorado. Na minha opinião, o mestrado no Brasil é usado erroneamente para suprir as deficiências da graduação. Eu só posso falar pela área de biomedicina e ciências naturais, não pelas Humanas, por exemplo. Lá fora a graduação é feita de tal maneira que se faz o mestrado dentro da graduação. E se você quer ser cientista, seguir uma carreira acadêmica docente, você sai direto para o doutorado. Também vejo que o mestrado passou a ser uma forma de se manter gente trabalhando a um custo muito baixo por aqui. Uma mão-de-obra barata, o que infelizmente acontece até no doutorado. Acredito que os projetos de pesquisa no Brasil têm de contemplar contratação de pesquisadores por períodos fixos por projeto. Esse é um debate enorme, mas é o que movimenta a ciência no mundo todo. Nós temos de enfatizar estrategicamente o doutorado e o pós-doutorado. Nós não damos a ênfase devida ao pós-doutorado, que é realmente o motor científico do mundo lá fora. No meu laboratório, os grandes atores, diretamente trabalhando comigo na estratégia do experimento, são os pós-doutores. Eles são treinados por três anos para serem pesquisadores independentes. Esse é o treinamento mais importante que você tem antes de virar um pesquisador que tem o seu próprio laboratório. Então ai você não valoriza o cara que responde o que está escrito no livro. Você não valoriza aquele cara que diz amém, você valoriza o cara que está pensando independentemente.
CC: Mas o sujeito pensa independentemente porém segue uma linha de pesquisa, confere?
MN: Claro que tem uma estratégia global do laboratório, porque ele é parte de um laboratório, principalmente os grandes. Mas o individuo está criando a infraestrutura intelectual e de gestão científica que ele vai aplicar quando tiver a sua própria “padaria”, que é o que um país como o nosso precisa. Precisamos ter doutores e pós-doutores com iniciativa, com independência, que não ficam esperando a ordem do chefe. Que vão e fazem. Isso é o que revolucionou a ciência americana.
CC: E não é o que se vê no Brasil, onde o pesquisador é condicionado a seguir uma cartilha.
MN: Nós aumentamos muito a nossa produtividade científica, mas ainda não sou do grupo de pessoas – e isso é uma divergência intelectual – que avalia a qualidade da ciência de um país pelo número de trabalhos. É evidente que é importante você ter uma massa capaz de comunicar resultados internacionalmente em revistas de boa qualidade. Mas o que é mais relevante é o que está escrito ali, porque, caso contrário, você cria um círculo vicioso de pedir dinheiro para continuar produzindo um papel que tem influência muito pequena na comunidade científica ou, mais adiante, na sociedade. Então você tem de ter uma base muito ampla de gente produzindo ciência. E gente produzindo ciência de base, abstrata, tem de ter nas ciências naturais, porque ciência aplicada não existe sem essa base enorme de gente pensando. Temos bons exemplos de países que investiram pesado em ciência de base e educação acopladas, como Coréia do Sul, Finlândia, Noruega… Os EUA são o maior exemplo disso. Na ciência de base é de onde se extrai as idéias que vão ter aplicação. Todo componente de alta tecnologia que a gente usa diariamente veio de coisas que o cara que fez a pesquisa do micro-processador original ia imaginar que desse nisso. É uma reação em cadeia imprevisível. Eu não consigo dizer pra você, se você me der 100 programas de pesquisa de 100 laboratórios, quem dali vai produzir algo que vai ser aplicado na sociedade. Agora, eu posso falar pra você quem daqueles 100 são caras para apostar. Isso é fácil de fazer.
CC: O senhor entende que o critério do CNPq é equivocado, portanto.
MN: Isso, porque não é o número de trabalho que conta. Eu brinquei, e o pessoal caiu na minha cabeça, que o Einstein não seria pesquisador 1A (nível top) no CNPq porque a fórmula, que é uma fórmula de economista (quantas teses publicadas, quantos alunos de graduação, quantos papers publicados), o coitado não preenchia. Ele só teve cinco papers até 1905. Só que cada um desses valia um Prêmio Nobel. O que ele fez mudou o mundo. Charles Darwin, com dois ou três livrinhos, mudou o mundo, e ele levou 60 anos para escrever aquele livro. Quem ia financiar o Charles Darwin? Então ainda vejo reflexos do final dos anos 80 presentes na nossa vida acadêmica. Inovamos pouco e criamos poucas linhas de pesquisa originais e seguimos muito linhas que vêm de fora. Só que nós temos aqui áreas fundamentais para a humanidade nos próximos 100 anos, temos uma Embrapa. A produção de alimentos, recursos hídricos, biodiversidade, ar, clima, tudo isso o Brasil pode ser líder – em algumas já é – mas pode ser líder mundial dessa tal ciência tropical, como eu gosto de chamar. É onde nós inovamos.